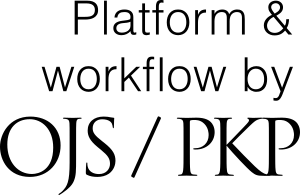Produção de currículo em uma escola do campo: uma análise sobre inclusão
DOI:
https://doi.org/10.18593/r.v46i.23867Palavras-chave:
Políticas curriculares, Educação do campo, InclusãoResumo
Este artigo põe em pauta questões relativas às experiências curriculares de uma escola do campo situada em um assentamento do município de Nobres - Mato Grosso. O escopo é analisar proposições curriculares que buscam articular demandas e saberes locais com orientações expressas na Base Nacional Comum Curricular, em tempos de crise na ciência. É dada centralidade aos desafios da inclusão de estudantes do campo em um contexto marcado por políticas curriculares que estabelecem padrões generalizados de saberes, competências, habilidades e de avaliação, em nome da qualidade do ensino. Busca-se amparo teórico nos estudos culturais para analisar dados extraídos de documentos e de narrativas de professores e de alunos do Ensino Médio da escola pesquisada. Argumenta-se a favor de metodologias de produção curricular que respeitem as diferenças como forma de assegurar o sentimento de pertencimento a uma instituição educativa atenta às singularidades do seu próprio espaço.
Downloads
Referências
ARROYO, M. G.; FERNANDES, B. M. A educação básica e o movimento social do campo. Brasília, DF: Coordenação da Articulação Nacional Por uma Educação, 1999. Disponível em: http://educampo.miriti.com.br/arquivos/Biblioteca/0081.pdf. Acesso em: 10 out. 2019.
BARROS, M. Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site_110518.pdf. Acesso em: 4 out. 2019.
BRASIL. Resolução CEB/CNE N.º 1/2002. Institui Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília, DF: [s. n.], 3 abr. 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/. Acesso em: 7 nov. 2019.
CALDART, R. S. A escola do Campo em Movimento. Currículo sem Fronteiras, v. 3, n. 1, p. 60-81, jan./jun. 2003. Disponível em www.curriculosemfronteiras.org. Acesso em: 22 out. 2019.
CALDART, R. S. Educação do campo: notas para uma análise de percurso. Revista Trabalho Educação Saúde, v. 7, n. 1, p. 35-64, 2009. DOI: https://doi.org/10.1590/S1981-77462009000100003
ESCOLA ESTADUAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON. Projeto Político Pedagógico. Nobres: SEDUC, 2019.
FERNANDES, B. M. Diretrizes de uma Caminhada. In: ARROYO, M. G. et al. Por uma educação do campo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 27-36.
GUGELMIN, G. M. M. C. Educação do Campo: uma análise do diálogo entre saber escolar e saber local no contexto do Programa Projovem. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Instituto de Educação, Universidade Federal do Mato Grosso, 2014. Disponível em: https://ri.ufmt.br/handle/1/294. Acesso em: 4 dez. 2019. DOI: https://doi.org/10.20873/uft.rbec.v4e5869
HENRIQUES, R. et al. (org.). Educação do campo: diferenças mudando paradigmas. Cadernos Secad, fev. 2007. Disponível em: http://livros01.livrosgratis.com.br/me4531.pdf. Acesso em: 22 out. 2019.
LOPES, A. C. Discursos nas políticas de currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 6, n. 2, p. 33-52, jul./dez. 2006. Disponível em: http://www.curriculosemfronteiras.org. Acesso em: 20 nov. 2019.
LOPES, A. C.; MACEDO, E. Currículo e Cultura: o lugar da ciência. In: LIBÂNEO, J. C.; ALVES, N. (org.). Temas da Pedagogia. São Paulo: Cortez, 2012. p. 152-166.
LOPES, A. C. Por que somos tão disciplinares? Educação Temática Digital, v. 9, p. 201-233, 2008. Edição Especial. Disponível em: https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-72891. Acesso em: 10 jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.20396/etd.v9i0.1052
LOPES, A. C. Por um currículo sem fundamentos. Linhas Críticas, v. 21, n. 45, p. 445-466, maio/ago. 2015. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/1935/193542556011.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. DOI: https://doi.org/10.26512/lc.v21i45.4581
LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. 15. ed. Tradução: R. C. Barbosa. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2013.
MACEDO, E. Base Nacional Comum para Currículos: direitos de aprendizagem e desenvolvimento para quem? Educação & Sociedade, v. 36, n. 133, p. 891-908, dez. 2015. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/ES0101-73302015155700. DOI: https://doi.org/10.1590/ES0101-73302015155700
MACEDO, E. Base Nacional Curricular Comum: a falsa oposição entre conhecimento para fazer algo e conhecimento em si. Educação em Revista, v. 32, n. 2, p. 45-68, jun. 2016. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/0102-4698153052. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-4698153052
MACEDO, E. Currículo como espaço-tempo de fronteira cultural. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 32, p. 285-296, ago. 2006. DOI: https://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782006000200007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782006000200007
MACEDO, E. Fazendo a Base virar realidade: competências e o germe da comparação. Revista Retratos da Escola, v. 13, n. 25, p. 39-58, jan./maio 2019.
DOI: https://dx.doi.org/10.22420/rde.v13i25.967. Disponível em: DOI: https://doi.org/10.22420/rde.v13i25.967
http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/967. Acesso em: 4 nov. 2019.
MACEDO, E. Mas a escola não tem que ensinar? Conhecimento, reconhecimento e alteridade na teoria do currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 17, n. 3, p. 539-554, set./dez. 2017. Disponível em: https://www.curriculosemfronteiras.org/vol17iss3articles/macedo.pdf. Acesso em: 7 out. 2019.
MATO GROSSO. Documento de Referência Curricular para Mato Grosso: concepções para a Educação Básica. Cuiabá: Seduc, 2018. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/12IdfeadygzgIyA2FnyYB0tpHZiYSJw9p/view. Acesso em: 11 dez. 2019.
MESQUITA, F. L. A pós-verdade levará à pós-democracia? Revista USP, n. 116, p. 31-38, jan./mar. 2018. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i116p31-38. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i116p31-38
MIGNOLO, W. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica. In: SANTOS, B. de S. (org.). Conhecimento Prudente para uma vida Docente. Um discurso sobre as ciências revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. p. 667-709.
MILLER, J. L.; MACEDO, E. Políticas públicas de currículo: autobiografia e sujeito relacional. Práxis Educativa, v. 13, n. 3, p. 948-965, set./dez. 2018. DOI: https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.13i3.0018. DOI: https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.13i3.0018
NASCIMENTO, C. G. Educação e cultura: as escolas do campo em movimento. Fragmentos de Cultura, v. 16, n. 11/12, p. 867-883, nov./dez. 2006. DOI: http://dx.doi.org/10.18224/frag.v16i1112.184.
NERY, I. J. Documento-síntese do seminário da articulação nacional por uma educação básica do campo. In: ARROYO, M. G.; FERNANDES, B. M. (org.). A educação básica e o movimento social do campo. Brasília, DF: Coordenação da Articulação Nacional Por uma Educação do Campo, 1999. p. 37-43.
PINAR, W. Estudos curriculares: ensaios selecionados. São Paulo: Cortez, 2016.
SÁ, N. de. Escolas e classes de surdos: opção político-pedagógica legítima. In: SÁ, N. de (org.). Surdos: qual escola? Manaus: Editora Valer e EdUA, 2011. p. 17-61.

Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2020 Tânia Maria de Lima, Mariana Rodrigues Athayde Dormevil

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Declaração de Direito Autoral
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista o direito de primeira publicação, com o trabalho licenciado simultaneamente sob uma Licença Creative Commons – Atribuição – 4.0 Internacional.