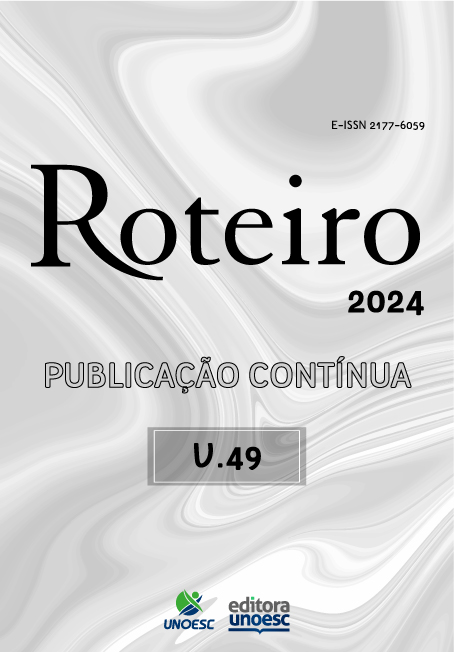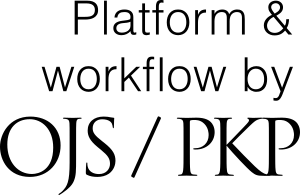Enfrentamento de estigmas e preconceitos na Educação Superior
DOI:
https://doi.org/10.18593/r.v49.32927Palavras-chave:
Formação de professores, Direitos humanos, Saberes docentes, estigmas, preconceitosResumo
Com o desenvolvimento da Política de expansão e interiorização da Educação Superior, teve acesso um grupo historicamente excluído de estudantes negros, pardos, quilombolas, indígenas aldeados, pobres e estudantes com deficiência, trazendo novos desafios à docência. Considerando este contexto e a herança colonial e elitista que modelou à docência da Educação Superior, temos como objetivo deste artigo analisar as concepções e desenvolvimento dos saberes docentes para o enfrentamento dos estigmas e preconceitos neste nível de ensino. Metodologicamente realizamos um ensaio teórico de natureza qualitativa, reflexiva e interpretativa, dividida em duas categorias de análise: desenvolvimento dos saberes docentes e saberes docentes nas tendências filosófico-políticas da educação. A análise teórica indica pista para o enfrentamento dos estigmas e preconceitos na Educação Superior: necessidade de construção de saberes profissionais mediados por uma formação continuada e colaborativa, com reflexão sobre a própria prática e a educação tradicional na qual fomos formados, desenvolvendo os saberes disciplinares para além dos conteúdos em um currículo que articule a ciência aos problemas reais do contexto, descortinando os apagamentos históricos e epistemológicos que silenciaram grupos e culturas. No desenvolvimento dos saberes experienciais, é necessário aprofundar a conexão de cada docente com a sua história, facilitando o acolhimento de si mesmo e a possibilidade de rever crenças que inferiorizam o outro, assumindo envolver-se na construção de práticas libertadoras.
Downloads
Referências
ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado. São Paulo: Graal, 1985.
ALLPORT, G. W. The Nature of Prejudice. New York: Perseus Books Group, 1954.
ARROYO, M. G. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Petrópolis: Vozes, 2018.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES. Brasília: ANDIFES, 2019. Disponível em: https://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2019/05/V-Pesquisa-Nacional-de-Perfil-Socioeconomico-e-Cultural-dos-as-Graduandos-as-das-IFES-2018.pdf.
BARBOSA NETO, V. P.; COSTA, M. da C. Saberes docentes: entre concepções e categorizações. Tópicos Educacionais, Pernambuco, v. 22, n. 2, p. 76-99, 2016. Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/viewFile/110269/22199.
BARREIROS, C. H. Dialogando com Peter McLaren: em busca de uma prática pedagógica multicultural e crítica. In: CANDAU, V. M. (org.). Cultura(s) e educação: entre o crítico e o pós-crítico. Rio de Janeiro: DP&A, p. 95-114, 2005.
BERBEL, N. A. N. Metodologia da problematização: fundamentos e aplicações. Londrina: Eduel, 1999.
BENEDICT, R. Padrões de cultura. Petrópolis: Vozes, 2013.
BLOCK, O.; RAUSCH, R. B. Saberes Docentes: Dialogando com Tardif, Pimenta e Freire. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, [S. l.], v. 15, n. 3, 2015. Disponível em: https://revistaensinoeeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/493.
BOLZAN, D. P.; CUNHA, M. I. da; POWACZUR, A. C. Docências e movimentos formativos: desafios e tensões na prática pedagógica. Revista Internacional de Educação Superior, v. 8, p. 01-22, 2022. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8663812/27939.
BRAGA, M. S.; FAGUNDES, M. C. V. Práticas pedagógicas participativas à luz de Paulo Freire: Contribuições para a construção da autonomia dos sujeitos humanos. In: SANTOS, C. C. dos; MUNIZ, A. I. H.; OLIVEIRA, G. L. M. F. de. (org.). III Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire. 1. ed. Natal: SINTERN, 2015. p. 484-494.
BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Plano Nacional de pós-graduação: PNG 2011-2020. Brasília, DF: CAPES, 2010. 608 p.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP 2, de 20 de dezembro de 2019. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, p. 46-49, 20 dez. 2019. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file.
CANDAU, V. M. Apresentação. In: CANDAU, V. M. (org.) Pedagogias decoloniais e interculturalidade: insurgências. Rio de Janeiro: Apoena, E-book. p. 6-8, 2020.
COELHO, W.; BRITO, N.; DIAS, S. Identidade de estudantes negras e negros: a experiência do projeto Afrocientista NEAB/GERA/UFPA. Roteiro, [S. l.], v. 46, p. e26303, 2021. Disponível em: https://periodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/26303.
CUNHA, M. I. Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da perspectiva individual ao espaço institucional. São Paulo: Junqueira & Marin, 2010.
CUNHA, M. I. Estratégias de assessoramento pedagógico em questão: potencialidades na didática da educação superior. Ceará: EdUECE, 2014. Livro 2.
CUNHA. M. I. Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. Educação, Santa Maria, v. 1, n. 41, p. 6-11, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.15448/1981-2582.2018.1.29725.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, P. Educação e mudança. 22. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
GALLO, S. Acontecimento e resistência: educação menor no cotidiano da escola. In: CAMARGO, A. M. F.; MARIGUELA, M. (org.). Cotidiano escolar: emergência e invenção. Piracicaba: Jacintha, 2007. p. 21-39.
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2004.
GOMES, N. L. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo sem fronteiras, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 98-109, 2012. Disponível em: http://www.apeoesp.org.br/sistema/ck/files/5_Gomes_N%20L_Rel_etnico_raciais_educ%20e%20descolonizacao%20do%20curriculo.pdf.
GOMES, N. L. O combate ao racismo e a descolonização das práticas educativas e acadêmicas. Revista de Filosofia Aurora, Paraná, v. 33, n. 59, p. 435-454, 2021. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/aurora/article/view/27991/25100.
GROSFOGUEL, R. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. Sociedade e Estado, Brasília, v. 31, n. 1, p. 25-49, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/j/se/a/xpNFtGdzw4F3dpF6yZVVGgt/abstract/?lang=pt.
HOOKS, B. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
HOOKS, B. Tudo sobre o amor: novas perspectivas. São Paulo: Elefante, 2021.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da Escola Pública. São Paulo: Loyola, 2011.
LYON JÚNIOR, H. C. Aprender a sentir-Sentir para aprender. São Paulo: Martins Fontes, 1977.
LUCKESI, C. C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994.
MACHADO, A. M. Menina bonita do laço de fita. São Paulo: Ática, 1986.
MENEGHETTI, F. K. O que é um ensaio-teórico?. Revista de Administração Contemporânea, v. 15, n. 2, p. 320-332, 2011. https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000200010.
NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. p. 13-33. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf.
OCAÑA, A O.; LÓPEZ, M. I. A.; CONEDO, Z. E. P. Decolonialidad de la educación: emergencia/urgencia de una pedagogía decolonial. Ed. Santa Marta: Editorial Unimagdalena, 2018. Disponível em: file:///C:/Users/apsob/Downloads/19819-90758-1-PB.pdf.
OLIVEIRA, B. R.; FICHTER FILHO, G. A.; COELHO, J. I. F. A trajetória das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação docente no Brasil: uma análise dos textos oficiais. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 940-956, 2021. Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=619869091012.
PIMENTA. S. G. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: PIMENTA, S. G. (org.). Saberes Pedagógicos e atividade docente. 8. ed. São Paulo: Cortez, p. 15-34, 2012.
PIMENTA, S. G.; ANASTASIOU, L. G. C. Docência no ensino superior. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2014.
RABELO, R. A. da S. V. Pedagogia universitária: um ensaio epistemológico. Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, n. 2, p. e2867, 2024. Disponível em: https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/2867.
REIS, M. da C.; SILVA, C. M. da. Bases epistemológicas de pesquisas relacionadas à população negra e educação. Roteiro, [S. l.], v. 46, p. e26312, 2021. Disponível em: https://periodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/26312.
RODRIGUES, T. A. As crenças de discentes do curso de pedagogia da FACED/UFC sobre o bom professor e a formação inicial. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/24666/5/2017_dis_tarodrigues.pdf.
RISTOFF, D. O novo perfil do campus brasileiro: uma análise do perfil socioeconômico do estudante de graduação. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, v. 19, n. 3, p. 723-747, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-40772014000300010 &lng=en&nrm=iso.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.
SILVA, R. H.; RESENDE, M. R.; VIEIRA, V. M. O. Uma análise de concursos públicos sob a perspectiva dos saberes docentes de Tardif. Revista Profissão Docente, Uberaba, v. 21, n. 46, p. 1-16, 2021. Disponível em: https://revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/1447.
SOARES, S. R.; CUNHA, M. I. Formação do professor: a docência universitária em busca de legitimidade. Salvador: EDUFBA, 2010. 134 p.
SOARES, S. R.; CUNHA, M. I. Qualidade do ensino de graduação: concepções de docentes pesquisadores. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, Campinas, v. 22, n. 2, p. 316-331, 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/j/aval/a/zYHnSR5syV9vZ53wKkW8LHQ/?lang=pt&format=pdf.
TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 17. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.
VIEIRA, R. S. Educação intercultural: uma proposta de ação no mundo multicultural. In: FLEURI, R. M. (org.). Intercultura: estudos emergentes. Florianópolis: Ed. Unijuí, 2001, p. 117-127.
WALSH, C. La educación intercultural en la educación. Peru: Ministerio de Educación, 2005. Disponível em: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20interculturalidad%20en%20la%20educacion_0.pdf.
WILLIAMS, Raymond. Cultura e sociedade: de Coleridge a Orwell. Trad. Vera Joscelyne. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2024 Sra., Sra.

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Declaração de Direito Autoral
Os autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista o direito de primeira publicação, com o trabalho licenciado simultaneamente sob uma Licença Creative Commons – Atribuição – 4.0 Internacional.